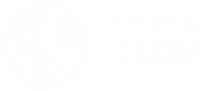Claudia Andujar é poliglota, mas, às vezes, esquece da sua língua materna.
Na sequência da abertura de “Gyuri”, Claudia relembra seus mais de 90 anos de história por meio de um monólogo.
Nascida na Suíça e criada na Hungria, a fotógrafa teve seu pai morto no campo de concentração de Auschwitz e conseguiu fugir, junto com a mãe, para a Suíça. No fim dos anos 1940, passa a viver em Nova York e depois se desloca ao Brasil.
“Deportações”, “perdoar”, “direito” são apenas algumas palavras que Claudia esquece em húngaro, mas lembra em português, enquanto conversa com o filósofo Peter Pal Palbert. Estes, porém, são os únicos termos que a diretora Mariana Lacerda consegue entender durante a filmagem.
“Depois de uma tragédia sobra muito pouco da língua”, diz a cineasta. “Filmar sem saber o que está sendo dito é difícil, mas esse ‘esquecimento’ me ajudou a me situar”.
Claudia quer esquecer muita coisa. Seu nome, na verdade, é Claudine Haas. O sobrenome original foi abandonado quando conheceu o primeiro marido, Julio Andujar, refugiado da Guerra Civil Espanhola, e o primeiro nome foi transformado quando a relação acabou.
Mas ela quer lembrar de algumas coisas também.
O significado do nome do documentário, por exemplo. Revelado ainda no começo do filme, “Gyuri” é o nome do primeiro amor de Claudia, um menino de 13 anos que morreu no campo de concentração de Auchwitz. Enquanto conta a história, ela mostra um minúsculo relicário com duas fotos, de Gyuri e do seu pai.
O filósofo Peter Pal parece impressionado: “Como você conseguiu preservar isso por tantos anos? Viajando tanto?”.
“Tem coisas que eu preservo…”, diz Claudia. Sua profissão, na verdade, é baseada nisso. Sem nunca ter feito qualquer curso de fotografia, Claudia comprou sua primeira câmera em São Paulo, em 1955, e começou a viajar pelo Brasil e pela América Latina.
“A história de guerra da Claudia é apenas um pedaço da vida dela”, diz Mariana Lacerda. “Não achei justo terminar com isso, o filme pediu a passagem pelo território Yanomami”.
Luta indígena
A segunda parte do filme se inicia, portanto, exatamente desse jeito: Claudia é levada por uma trilha floresta adentro até o povo Yanomami em uma cadeira de rodas que, muitas vezes, empaca pelo caminho.
Segundo Mariana, houve uma certa burocracia com a Funai que autoriza a entrada em terras indígenas, mas a comunidade acolheu a equipe de forma muito bonita.
A diretora, e também o espectador mais atento, aprendem muito com Claudia. Seu respeito à comunidade e o quanto ela se sente em casa ao dormir tranquilamente em uma rede são inspiradores.
Essa relação sincera com os Yanomami e a profunda conexão com a causa datam de 1971.
Nessa época, ela abandona São Paulo, passa a viver entre os estados de Roraima e do Amazonas, registrando os indígenas desse povo e, em 1978, é enquadrada na lei de Segurança Nacional e expulsa do território pela Funai.
“Claudia fugiu de um genocídio para ajudar um povo que estava sofrendo da mesma forma, mas mais silenciosamente”, diz Mariana Lacerda.
Sua luta deu frutos. Em 2022, comemora-se os 30 anos da demarcação indígena da terra Yanomami.

Para a diretora de “Gyuri”, é preciso conversar sobre o que acontecerá a partir de agora com a floresta.
“É necessário confabular e falar sobre o futuro, principalmente o futuro que já se faz presente, precisamos cuidar do que temos hoje”, diz Mariana.
O filme, segundo a cineasta, é dedicado às crianças, àquelas que morreram no Holocausto, às crianças indígenas e as que virão. Ela cita o caso da menina Yanomami que fora violentada por um garimpeiro este ano e se emociona.
“Enquanto o xamã pede para que o espírito da pandemia, chamado de ‘xawara’, deixe a humanidade em paz, nós mandamos os garimpeiros para os territórios deles”, diz ela.
Mariana completa sua fala torcendo para que o filme traga alguma contribuição para a preservação da floresta amazônica ao mostrar a vida e devoção de Claudia à causa que, mesmo com a cadeira de rodas empacando na trilha, segue segurando firmemente sua câmera fotográfica.
FONTE: Por CNN